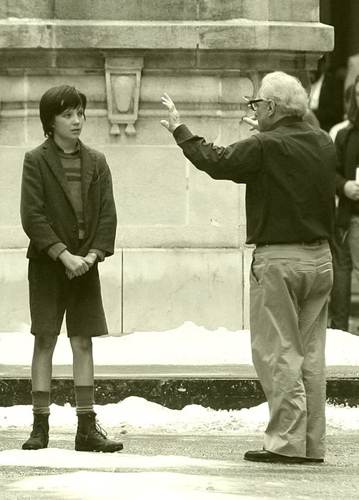É meia noite na Paris de Woody Allen: onde estão seus desejos?
Ana Maria Bahiana
É uma boa coisa que Meia Noite em Paris (Midnight in Paris, Woody Allen, 2011) tenha sido escolhido para abrir o Festival de Cannes, semana passada: poucos filmes que eu me lembre realizam tão bem a visão do encontro entre cinemão e cineminha, entre Estados Unidos e França. É delicioso, leve, altamente digerível mas bem acabado, bem articulado, bem resolvido _ coisa que nem sempre os últimos trabalhos de Woody Allen tem sido, especialmente quando ele se deixa possuir por rancor, amargura e cinismo.
Estamos bem longe disso nesta meia noite numa Paris da imaginação. O clima é A Rosa Púrpura do Cairo e não Celebridade: um bombom, talvez um suspiro, e não uma poção de arsênico.
Pena que, para presevar a delícia do filme, eu não possa dizer quase nada sobre ele _ é um desses que quanto menos se sabe antes de sentar na cadeira, melhor.
O que posso dizer: um escritor frustrado (Owen Wilson, escolha mais que certa para o papel) vai com sua noiva (Rachel McAdams, ótima) e a familia dela para Paris. O pretexto é uma viagem de negócios do futuro sogrão (Kurt Fuller) _ republicano roxo, produto típico da era Bush . A viagem deveria ser também uma excursão de compras para a nova casa dos noivinhos (que ainda não existe) guiada pela futura sogra ,o tipo de pessoa que acha uma cadeira de dezenas de milhares de euros “uma pechincha”. No meio do caminho haverá o encontro com o ex-namorado da moça (Michael Sheen) um sujeito pomposo que gosta de dar palestras espontâneas sobre qualquer assunto, de vinhos a história da arte, mesmo que ninguém queira ouvir.
Gil, o escritor, é um roteirista de sucesso mas intui, como muitos antes dele, que ser apenas “super procurado pelos estúdios “ (palavras da noiva) não é o suficiente para saciar sua fome de algo mais, a busca de uma felicidade sem nome que ele, talvez por falta de opções, coloca no passado, na Paris dos anos 1920, onde modernismo, cubismo e surrealismo estavam sendo criados e uma geração de autores e artistas norte-americanos, alegremente auto-exilados, se reinventava. “Nostalgia é medo do futuro”, pontifica o ex-namorado, e ele tem mais que um pouco de razão (o que não o torna menos irritante.)
E então, numa bela noite, Gil tem uma epifania mágica…
Como em tantos outros de seus filmes, Gil é um alter–ego de Allen. Ou melhor, uma faceta de sua alma, aquela que, no outono da vida, reavalia uma carreira de sucesso e pensa se isso é ou não o bastante. A decisão de abordar esse dilema com generosidade e lirismo – e não com ressentimento e sarcasmo – é o que faz Meia Noite em Paris a delícia que é, indo além dos dez minutos de cartão postal da abertura para uma visão gloriosa da Paris dos sonhos, das possibilidades, repositório das aspirações de gente criativa e contra a corrente de todas as épocas.
Allen está no topo de sua forma como dialoguista e desenhista de personagens _ em poucos traços, sabemos exatamente quem são esses americanos exilados em Paris e o que cada um espera da Cidade Luz (que, na visão de Woody, retribui exatamente na medida do desejo de cada um, cidade-fada-madrinha dos sonhos alheios). A escolha do elenco é perfeita, a fotografia é linda e o gosto de Allen pelo jazz dos Roaring Twenties casa-se perfeitamente com o clima do filme.
Meia Noite em Paris estreia nos EUA sexta dia 20 e no Brasil dia 17 de junho.