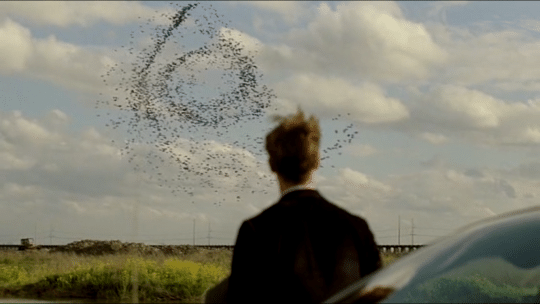Minha séries favoritas da nova temporada (nem todas estão na “TV)
Ana Maria Bahiana
Nesta época do ano sou o alvo de duas avalanches. A primeira traz os dvds da quantidade cada vez maior de novas séries disputando espaço no início oficial do ciclo, o outono no hemisfério norte. A segunda vem mais tarde, em geral depois do dia de ação de graças (final de novembro): todos os filmes esperançosos por uma indicação ao Globo de Ouro.
A avalanche de TV, este ano, foi triste. Nem vou entrar em detalhes, a não ser para dizer que Gotham poderia tern sido tão divertida se tivessem contratado roteiristas que sabem escrever…
Mas vamos focar no positivo: do balaio 2014 estas são as minhas séries favoritas.
Transparent (Amazon; todos os episódios disponíveis) já está sendo chamada de “a melhor nova série do ano”, o que é um pouco demais pra burro num ano que teve True Detective e Fargo. Mas não deixa de estar, com certeza, entre as melhores coisas desta safra. Crédito à criadora e showrunner Jill Soloway, que vem de duas boas escolas – o cinema independente (recomendo oseu Afternoon Delight que, apesar de instável – cheio de altos e baixos – revela seu talento para compreender e compor personagens) e a TV de primeiro escalão (Six Feet Under, United States of Tara). E crédito a Jeffrey Tambor, protagonista e principal força de impulso da série, no papel de um professor universitário, pai de três filhos, que decide, do alto de seus 70, mudar de sexo. O assunto não é original – o ótimo Transamerica, de 2005, e o telefilme Normal, de 2003, exploraram a questão com inteligencia, sensibilidade e grandes desempenhos de Felicity Huffman e Tom Wilkinson, respectivamente. Transparent alinha-se com esses bons títulos acrescentando uma paisagem humana e social precisa – a alta classe média de Los Angeles- e explorando o impacto das escolhas do pai sobre a vida dos filhos adultos, mas não necessariamente maduros. Um prazer, repleto de humanidade e humor.
Olive Kitteridge (HBO; estreia nos EUA 2 de novembro) Mildred Pierce, três anos atrás, abriu um nicho super interessante na programação da HBO: a minissérie sobre e para mulheres. É uma recuperação genial do “filme de mulheres” dos anos 1930 e 40, agora com a liberdade de ir mais fundo, de não fugir de temas espinhosos, controversos. Baseada no livro homônimo de Elizabeth Stro ut– na verdade uma coleção de contos sobre as vidas de vários habitantes numa cidadezinho do Maine – Olive Kitteridge foi adaptada com total precisão pela roteirista Jane Anderson e a diretora Lisa Cholodenko. A pragmática, contida, burtalmente honesta Olive (Frances McDormand, espetacular) é agora o centro de tudo. A cidade muda, pulsa e se transforma ao longo de 25 anos na vida dessa mulher, cuja fachada de força impenetrável oculta um mundo de dor e paixão. Só acompanhar o desempenho de McDormand já vale – mas ainda tem Richard Jenkins e, numa ponta essencial, Bill Murray (mais um sensacional elenco de apoio).
BoJack Horseman (Netflix; todos os episódios disponíveis). Quando recebi os DVDs minha primeira reação foi: Ai! Quem precisa de mais uma animação tosco-irônica?! Confesso que o que despertou minha curiosidade foi a participação de Aaron Paul como a voz do principal coadjuvante, num elenco que já tinha Will Arnett, Amy Sedaris, Stanley Tucci, Patton Oswalt, J, K. Simmons , Anjelica Huston , Melissa Leo, e, como elas mesmas, Naomi Watts e Margot Martindale. Ainda bem. Imaginem os Simpsons na Hollywood de um universo paralelo onde os humanos convivem com híbridos entre gente e bicho, gerando seres como um diretor chamado Quentin Tarantulino (uma tarantula) , o nosso herói equino que foi famoso na TV dos anos 1990, e uma editora chamada Penguin onde só trabalham… pinguins. E isso é só o começo: a fina faca do comentário sobre as idiotices de nossa descerebrada cultura da celebridade corta de verdade, com o melhor gume possível – o riso.
Menções honrosas vão para duas co-produções britânicas: Happy Valley (Netflix, todos os capítulos disponíveis) e The Missing (Starz, estréia nos EUA 15 de novembro). Em ambas, um desempenho espetacular ancora tudo e faz a gente esquecer as (pequenas ) falhas de cada um. Em Happy Valley Sarah Lancashire é uma sargento da polícia de uma pequena cidade do norte da Inglaterra, escondendo sob sua fachada estóica um mundo interior fracionado e muito próximo da violência que ela policia. Em The Missing Tony Hughes é um pai absolutamente possuído pela obsessão de encontrar seu filho, desaparecido há mais de oito anos. Os ritmos das duas séries são às vezes oscilantes, mas o poder de seus personagens nos mantém ligados na tela sem cessar, Cuidado com as maratoas – vão roubar horas preciosas de sono…