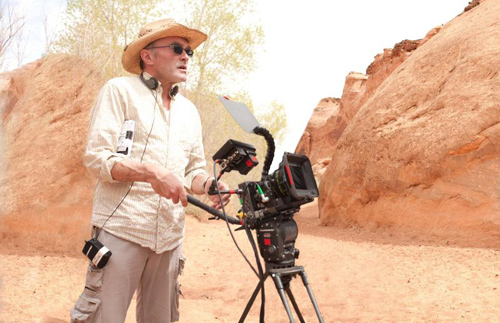Em Cisne Negro, a agonia e o êxtase da perfeição
Ana Maria Bahiana
A possibilidade da perfeição, a transcendência da perfeição, a loucura da perfeição _ em Cisne Negro Darren Aronofsky nos convida não a ver, mas a viver estes caminhos, em plena comunhão com sua protagonista, Nina (Natalie Portman) a primeira bailarina de uma fictícia companhia dirigida pelo autoritário e possivelmente brilhante Thomas (Vincent Cassel).
Há duas histórias secundárias correndo no fundo do brilhante roteiro (de Andres Heinz, Mark Heyman (de O Lutador) John McLaughlin , a partir de um argumento de Heinz adaptando seu roteiro original The Understudy ): o passado de Erica (Barbara Hershey) ex-bailarina, mãe de Nina; e o da ex-primeira bailarina Beth (Winona Ryder) bruscamente aposentada por Thomas no início do filme.
Mas essas tramas são afluentes do rio que realmente importa e sobre o qual quanto eu menos falar, melhor: a história de Nina, que por sua vez se confunde com o próprio enredo do balé Lago dos Cisnes. Tchaikovsky compôs Lago em 1875-76, inspirado numa série de lendas russas que por sua vez se baseavam em mitos germânicos ainda mais antigos. E, se continuarmos neste mergulho, vamos dar num arquétipo de quase todas as culturas: o da mulher-que-muda, a sereia, a selkie, a mulher-lobo, a mulher-garça. A possibilidade do outro, de habitar o outro, de ser a natureza selvagem.
Combinado com a rigorosa disciplina do balé, o mito adquire um poder imenso, que Aronofsly explora como gosta: num mergulho em queda livre, mas absolutamente controlada. Nina é feita prima ballerina, estreando no papel da Odette, a princesa encantada em cisne, numa nova produção de Lago dos Cisnes “mais moderna, mais nua, mais sensual”, nas palavras enfáticas de Thomas.
Responsabilidade, ansiedade e estresse são imensos. Como em toda montagem do Lago, Nina terá que dançar não apenas Odette mas sua arqui-rival, sua sombra, Odile, o Cisne Negro, que irrompe num furacão de jetés e fouettés en tournant no terço final do balé, toda paixão, impulso, inconsciente. Como em toda companhia, Nina tem uma bailarina alternativa, que aprende a coreografia para poder substitui-la em caso de necessidade _a mais jovem Lilly (Mila Kunis). E por aqui ficamos.
Como em O Lutador, Aronofsky escolhe um ponto de vista e permanece nele, disciplinado como um dançarino. Vivemos a jornada de Nina com ela, nas aulas, na barra, nos ensaios, nos espelhos, nos múltiplos , pequenos e precisos rituais do balé : as camadas de malhas, o preparo das sapatilhas, as dolorosas sessões de fisioterapia, os calos, as bolhas, os tombos, as equimoses. É tortura, agonia e é êxtase, transcendência _ nunca, nem nos maravilhosos All That Jazz e The Red Shoes, eu vi um filme traduzir tão perfeitamente a experiência física, emocional e sensorial de dançar (nota pessoal: danço balé desde os 5 anos. Sou uma dedicadissima bailarina sem talento. Tem gente que corre, joga tênis, faz ioga. Eu danço balé.)
Aronofosky tem dois parceiros preciosos nesta formidável experiência sensual: a fotografia de Matthew Libatique, que enquadra e se movimenta com a inteligência do gesto repleto de controle e intenção, e a música de Clint Mansell, que parte de Tchaikovsky para um outro lugar mais sombrio, mais íntimo. O elenco está uniformemente excelente, com destaque para o rigor da abordagem de Natalie Portman, perfeita no entendimento profundo da vertigem da perfeição (que me fez lembrar a peça Nijinsky, o Palhaço de Deus).
É filme para não se perder, mas para se perder nele.
Cisne Negro estreia sexta feira dia 3 aqui nos EUA e 4 de fevereiro no Brasil. Em breve, matéria com entrevistas sobre os bastidores de Cisne Negro no UOL Cinema, e 15 minutos de papo com Darren Aronofsky, aqui.